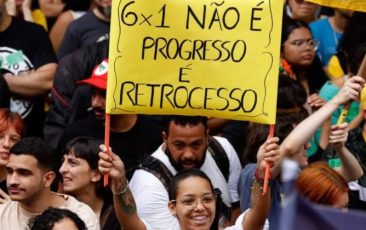Alessandro Dantas

A interação de dois fenômenos é sugestiva de uma atividade agrícola num futuro não distante, organizada sob bases muito distintas da agricultura de larga escala nos termos atuais, no caso do Brasil. O primeiro fenômeno diz respeito à trajetória erosiva, no longo prazo, dos níveis de rentabilidade econômica da base primária da atividade. Há um gap continuado entre custos de produção e preços agrícolas, sem ganhos de produtividade suficientes para compensá-lo. Pode-se dizer que esse processo ocorre em escala global e teve início com a autossuficiência alimentar da Europa no final da década de 1970.
Como exemplo, no caso brasileiro, tomando-se um período recente para a soja (2007 a 2024) uma das principais commodities do agronegócio exportador, os custos de produção da soja GM (R$/ha) cresceram cerca de 410%, segundo dados da Conab. No mesmo período, os preços da soja ao produtor, subiram, em média, 315% de acordo com o CEPEA, e a produtividade da cultura cresceu 16%.
Nos países ricos, a competitividade econômica da agricultura tem sido assegurada por políticas protecionistas e de subvenção bilionária aos agricultores. Dados de 2023 da OCDE informam que naquele ano os EUA aplicaram em subvenções específicas aos agricultores (não a todo o agronegócio) 35 bilhões de dólares; a União Europeia, 100 bilhões de dólares e a China, 264 bilhões de dólares.
No Brasil, a grande exploração agrícola tem mantido elevada competitividade e avançado no mercado externo por vários fatores. Destacamos três: a demanda alimentar internacional crescente no contexto de uma estrutura de oferta com poucos fornecedores entre os quais o Brasil passou a ser destaque. Em segundo, para as condições fiscais do país, as subvenções aos agricultores são significativas (7.4 bilhões de dólares em 2023). Em terceiro lugar, as unidades de produção de mega escala geram aos proprietários gigantesca apropriação da renda fundiária. Em que pese as pressões contrárias recentes, ainda são comuns enormes passivos socioambientais associados à atividade; os preços da terra ainda mais baixos que nos principais países com tradição agrícola; e a cultura da inadimplência no crédito rural que, no conjunto, também contribuem para a compensação do gap de rentabilidade antes comentado.
O segundo fenômeno que potencializa o primeiro e ameaça o atual padrão de agricultura, são os impactos das mudanças climáticas na agricultura (elevação térmica, desertificação, salinização, novas pragas e doenças, etc). Nos próximos dias na COP 30, em Belém, o mundo voltará a tentar acordo por medidas que enfrentem o gigantesco desafio de reduzir em escala as emissões para evitar que a temperatura global ultrapasse os 2 graus centígrados.
A agricultura contribui de forma importante e já está sendo fortemente afetada por esse processo. Afora as queimadas como no Brasil, o principal fator da contribuição da agricultura para o aquecimento global tem siso o peso dos combustíveis fósseis nos insumos utilizados. Resta o dilema: sem a redução massiva da utilização dos agroquímicos não há possibilidade de redução das emissões pela agricultura; ao mesmo tempo, sem o uso crescente desses insumos a agricultura produtivista de larga escala como conhecemos hoje estará inviabilizada.
A transição energética na agricultura é extremamente desafiadora. É certo que há avanços científicos em direção à sustentabilidade, mas bem distantes de, por exemplo, dispensar o uso dos químicos como exigiria os mais recentes cenários para o aquecimento global projetados pelo IPCC. O avanço do aquecimento global exigirá uma agricultura baseada na diversidade genética, pequena escala e novas tecnologias que garantam a conciliação entre um novo produtivismo e a sustentabilidade. A pequena produção agroecológica se credencia para ocupar bom espaço na paisagem agrária do futuro.